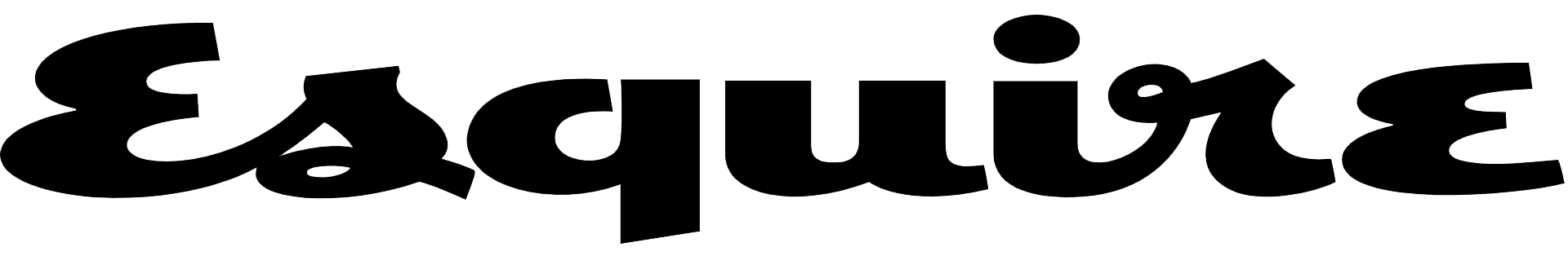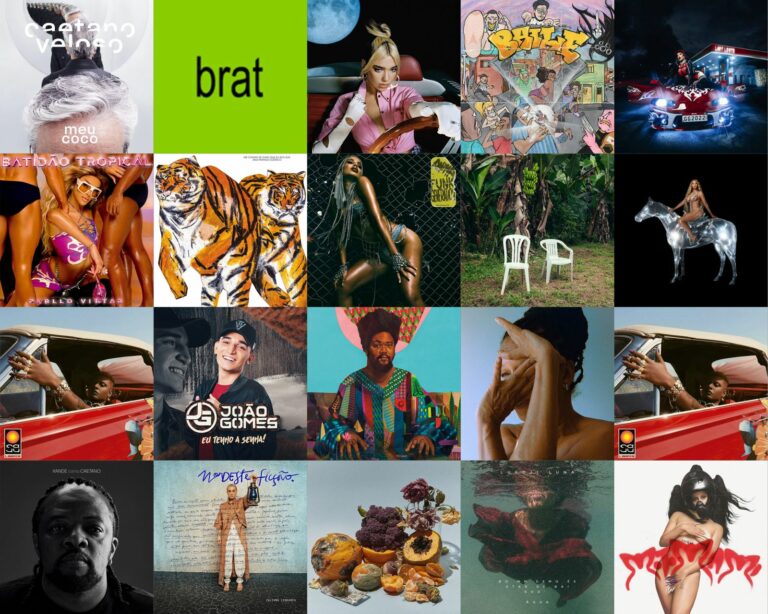São 11h05 de sábado e estou cinco minutos atrasado para meu primeiro — e talvez único — dia de trabalho. Entro na Rua Sorocaba, em Botafogo, e aperto o passo até chegar ao meu destino. Não há letreiro ou qualquer indicação na entrada da casa de dois andares. Apenas uma porta de vidro, que atravesso com a excitação de uma criança prestes a entrar numa fantástica fábrica de chocolates. Mas o que me espera lá dentro é um outro produto, capaz de fazer salivar qualquer fissurado em música: milhares de discos de vinil, dos mais variados estilos, formatos e procedências. Estou na Tropicália, uma das principais lojas do Rio de Janeiro. E a partir de agora e até o fim do expediente, sou um dos seus funcionários, à disposição do público. Bom dia. Meu nome é Carlos.
Já há dois clientes no local, vasculhando as estantes. Me apresento a Marcio Rocha, um dos sócios, que me leva para um rápido tour pela loja, mostrando como os discos estão divididos e onde fica cada seção: rock (progressivo e metal têm uma área à parte), soul, jazz, reggae, latinos, eletrônicos/dance, MPB, lançamentos e recém-chegados. No fundo da casa, há um jardim, onde dezenas de rolinhas se amontoam, como numa cena de “Os pássaros”, de Hitchcock. Mas seu ataque é inofensivo. “Elas vêm atrás de comida. No começo, eram duas ou três, que a gente alimentava. Agora, é isso todo dia”, conta ele. A relação com os clientes, aprendo, não tem muito mistério, como me explica Douglas Wosny, que trabalha ali desde 2023: a tática é deixar todo mundo à vontade e, quando necessário, oferecer ajuda para achar alguma coisa. Mas como ninguém está ali para posar de supercool, as interações com os visitantes são muito bem-vindas.

Estou em êxtase, mas disfarço. Adolescente do século passado, frequentador de lojas (já extintas) como Modern Sound e Disco do Dia, em Copacabana, vivi nesses espaços muitas descobertas, encontros e confraternizações. Durante um tempo, sonhava trabalhar numa loja de discos para ficar o dia inteiro ouvindo música, falando de música e indicando músicas legais para as pessoas. Virar jornalista de música supriu algumas boas partes desse ingênuo desejo. Mas agora estava prestes a viver, por algumas horas, o sonho nerd original. Reparo na decoração discreta e quase minimalista da loja, que até 2023 ocupava outro endereço, menos favorável, num prédio comercial no centro da cidade, antes fervilhante e agora esvaziado no pós-Covid. Numa das paredes, está o pôster do documentário “O fabuloso Fittipaldi”, de 1973, dirigido por Roberto Farias, com trilha-sonora assinada por Marcos Valle e pelo então iniciante grupo Azymuth, que se tornaria um gigante da música instrumental brasileira. Em outra parede, estão penduradas preciosidades como “Nashville skyline”, de Bob Dylan, “The power and the glory”, do Gentle Giant (na versão inglesa, com a capa em formato de uma carta de baralho) e “Suitable for framing”, um bootleg de Paul McCartney.

Entra um cliente. Wosny faz o sinal com a cabeça, indicando que ele é todo meu. Me apresento e ele quer saber onde ficam os discos de George Benson. Boa pergunta, já que eles podem ficar tanto na parte de jazz como na de soul. Para meu alívio, Wosny sussurra a resposta certa: “jazz”. No final das contas, ele leva “Alucinação”, segundo álbum de Belchior, originalmente de 1976, em relançamento da Universal/Polysom. “Boa escolha”, digo, enquanto coloco o disco na sacola com o logo da loja. Me sinto numa cena de “Alta fidelidade” (a série, que é melhor que o filme e que o livro de Nick Hornby).
Aliás, aproveitando, cinco músicas para ouvir num sábado de manhã:
1. “Twin peaks theme” – Angelo Badalamenti; 2. “Guajira en azul” – Cal Tjader e Eddie Palmieri; 3. “September 13” – Deodato; 4. “I feel the Earth move” – Carole King; 5. “Vitrines” – Gilberto Gil.
Volto ao trabalho. Como bom profissional, preciso me manter informado. Me debruço na seção de jazz. Encontro Freddie Hubbard (“Ride like the wind”) e Duke Ellington (“Concert of sacred music”), além de Miles Davis, Dave Brubeck, Chet Baker, a turma toda. Nos progressivos, pego o poderoso Can (“Future days”) e reencontro o Camel (“Snow goose”, será que ainda soa bem?). Na área de soul e funk, salivo com a trilha do musical “Don’t play us cheap”, de Melvin Van Peebles e grande elenco. Descubro também, por indicação de Rocha, o groove sacana de Blowfly (“Disco party”). E como trabalho ali hoje, posso botar o que quiser para tocar como som de fundo. Curioso com a capa, que homenageia o supremo “Astral weeks”, de Van Morrison, coloco no toca-discos o EP “Majomin”, do multi-instrumentista alemão Robert Nacken. O elegante groove soul-jazz se espalha pelo local. Começo a me sentir em casa.
Outro cliente se aproxima. Ele tem sotaque latino. Pergunto “dónde es él”. Descubro que Jose é da calorosa Cali, na Colômbia, e que, ironicamente, busca alguma coisa do gélido synthpop. Ele vai embora com um Depeche Mode e um Information Society na sacola. Liberado pela gerência, dou a Jose um desconto de 10%. Volte sempre, hermano.
De repente, escuta-se uma exclamação vinda de um casal na área da MPB. “Caramba, foi meu pai quem tirou essa foto”, diz o homem, segurando o álbum “Sinceramente”, de Sérgio Sampaio. Lançado em 1982, de forma independente, esse foi o derradeiro trabalho do autor do clássico “Eu quero é botar meu bloco na rua”. A equipe se junta em torno dele. “O Sérgio tinha brigado com a gravadora e resolveu lançar por conta própria esse disco. Daí meu pai tirou essa foto da capa na piscina lá de casa”, conta Pedro Breitschaft, que descobrimos ser filho de Paulo Breitschaft, autor do registro.
Uma conversa dessas, obviamente, não seria possível no ambiente fechado e individualista das plataformas de streaming, que dominam o mercado global de música, oferecendo um catálogo quase infinito e imensas possibilidades de descobertas. Mas de que adianta achar um disco há muito desejado se não tem ninguém ao lado para compartilhar a alegria? Talvez por isso, lojas de discos estejam vivendo um bom momento. Na Inglaterra, por exemplo, a HMV reabriu sua principal loja, no centro de Londres, após quatro anos fechada. O motivo dessa ressurgência — nada comparada, claro, aos tempos pré-Napster, quando as lojas reinavam supremas — deve-se ao boom do consumo do vinil em todo o mundo.
Globalmente, as vendas de vinil cresceram 4,6% em 2024, em relação ao ano anterior, segundo a International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). No Reino Unido, o vinil teve, no mesmo período, um crescimento de 11%. Nos EUA, seu aumento foi de 7%. No Brasil, o formato teve um aumento ainda maior, de 45,6%, de acordo com um relatório da Pró-Música.
Mais do que nostalgia de outros tempos, especula-se que as pessoas — principalmente as novas gerações — buscam nesses locais uma sensação de comunidade, principalmente depois do isolamento da pandemia. Procuram, também, um contato físico com a música, através das capas dos discos — algumas, verdadeiras obras de arte — e dos encartes, que trazem letras e informações sobre as gravações, coisas que inexistem no streaming. “Acho que as pessoas estão em busca da cultura da música, da história que está por trás de cada disco, cada lançamento. Buscam também o lado físico, o sensorial, o toque. E o vinil oferece tudo isso”, arrisca Rocha, enquanto comemos um sanduíche na cozinha da loja, temperado por deliciosos papos sobre música. “Outro dia, um amigo DJ, o Rodrigo Facchinetti entrou na loja com um estrangeiro, um inglês. Conversa vai, conversa vem, ele me disse que o cara tinha gravado com o Pharoah Sanders. Fiquei impressionado e fui falar com ele. Acabei descobrindo que era o Floating Points, um dos grandes nomes do som eletrônico”.

Retorno à loja na sexta-feira seguinte e sou informado que Walter Salles esteve por ali na véspera. Desencontramos, paciência. Atendo um cliente que, depois de passar um bom tempo na prateleira de rock progressivo, vai embora com discos do grupo alemão Amon Düül, do britânico The Nice e da banda de metal Jaguar. Logo depois, entram dois garotos de Logan, Utah, EUA, à procura de “coisas legais de MPB e samba”, diz o mais animado deles, num bom português, apesar do sotaque carregado. “Aprendemos na escola”, explica, enquanto indico, sem muita convicção, “Olhos da vida”, de Almir Guineto. Rocha, muito mais sagaz, saca vários discos de Nelson Gonçalves. “Aí ficou perigoso”, brinca o garoto de Logan, que acaba levando um sacolão com “O cabra da peste”, de Jackson do Pandeiro, mais um disco de Abdias e sua Sanfona e outro de Elis Regina. “Achei que iam comprar alguma coisa do Caetano”, palpita Lucimar, que ganhou um toca-discos e procura álbuns de Ritchie para mostrar ao filho.
Outra visita, desta vez, ilustríssima passa pela entrada. É Sônia Ferreira, que fez parte do grupo vocal Quarteto em Cy, uma joia da MPB, entre 1968 e 2022. Ela está acompanhada pelo sobrinho, Pedro Albuquerque, jornalista e um dos curadores do C6 Fest. Sônia veio para uma reunião com Geraldinho Magalhães, produtor, empresário e um dos sócios da gravadora Três Selos/Rocinante, que ocupa o andar de cima da casa. Enquanto espera, ela conta histórias do seu ex-grupo, como a luta para gravar o álbum ao vivo “Resistindo”, de 1977, em plena ditadura, na presença dos censores. “Eles ficavam sempre na primeira fila, querendo ver se íamos cantar algo proibido”, diz ela, que lembra também de coisas mais amenas, como o encontro com Sean Lennon, fã do grupo, no Rio, em 2000, para regravar “Julia”, num tributo “made in Brazil” a John Lennon, organizado pelo pesquisador e produtor Marcelo Fróes. “Começamos à tarde e entramos pela noite ensaiando com o Sean.” A música acabou ficando de fora do álbum, mas não as boas lembranças do filho do saudoso Beatle. “Ele foi um amor com a gente. Chegou a comprar 80 discos nossos para distribuir para seus amigos”, conta Sônia, antes de subir para seu compromisso, não sem antes autografar uma cópia em vinil de “Resistindo”, que vai para uma das paredes da loja.
O movimento aumenta no final da tarde. As conversas e os assuntos se misturam, ao gosto dos fregueses: Bowie, rock argentino, King Crimson, Adoniran Barbosa, Black Sabbath, vale tudo nessa improvisada happy hour do vinil. A última visita do dia é a alemã (de Berlim) Charlotte. Acompanhada da irmã, do cunhado e do bebê do casal, ela procura discos de Maysa e Chico Buarque. Acaba levando “Saudade demais”, do maestro Arthur Verocai, relançado pelo selo da casa. A porta de vidro é fechada. Rocha se dirige aos fundos da loja para alimentar as rolinhas. “Quando visitou a loja, o (baterista de jazz) Brian Blade ficou maluco com isso aqui”, diz ele, enquanto joga milho no jardim. Os pássaros o cercam e depois voam. São 18h15m de sexta-feira. E eu faço o mesmo.