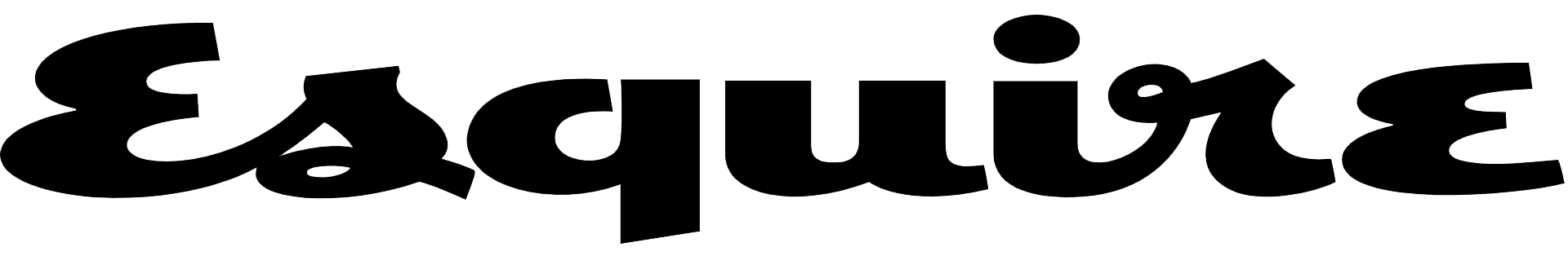Um amigo conhecido pela pouca sutileza disse a Flavio Marinho, recentemente, que não havia chance de ele ser um bom ator. Afinal, já era bom autor, diretor e produtor. Mais uma qualidade, impossível. O elogio oblíquo não desanimou Flavio, que diz ir até o fim em tudo o que decide fazer. Aos 70 anos, dos quais em 52 esteve envolvido com teatro, o dramaturgo estreou no palco em “Duas ou três coisas que eu sei delas”, peça que esteve em cartaz até 31 de outubro, no Teatro Vannucci, no Shopping da Gávea, Rio de Janeiro. Não é exatamente um trabalho dramático. Flavio conta histórias da sua vida, em texto escrito por ele mesmo. Mas é um texto decorado, que ele fala se movimentando pelo palco em alguns momentos. O título se refere ao mote da peça: rever partes de sua história a partir das mulheres.
“Pensei: por que não falo dessas mulheres que marcaram a minha vida?”, conta. “A história do teatro brasileiro é de matriarcado: Fernanda Montenegro, Marília Pêra, Bibi Ferreira, essa mulherada que ajudou a formar minha paixão pelo teatro e pelas artes em geral.” Fernanda está na origem do projeto. Após vê-lo numa entrevista na TV, mandou um áudio por WhatsApp elogiando sua performance. “Flavio, você tem que ir pro palco”, conclamou a estrela. Diante de tal estímulo, ele tomou coragem.
Um segundo sentido do título é que, em todas as pontas do espetáculo, estão mulheres: direção, atriz, direção musical, direção de movimento, divulgação etc. A exceção é o preparador de voz, Felipe Abreu. A diretora, que também está estreando em nova função, é a atriz Luciana Braga, com quem Flavio já trabalhou cinco vezes. A última foi “Judy: O arco-íris é aqui”, um solo musical sobre a vida de Judy Garland (1922-1969). Estreou em 2022, ficou mais de dois anos em cartaz e rendeu ao dramaturgo o prêmio de melhor autor da APTR (Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro).
“O Flavio transita entre emoção e humor. A vida é mais rica do que uma coisa só. Gosto dessa multiplicidade que ele leva para o palco”, elogia Luciana, que tem, na assistência de direção, sua filha Isabel Castello Branco, de 23 anos. Para mostrar como é o amigo, ela recorda a origem de “Judy”. Mandou um vídeo de Judy Garland para Flavio dizendo que as duas se pareciam. A resposta foi: “Vamos fazer!”. E, assim, o projeto foi desenvolvido em plena pandemia. “Eu sou cética. Ele é sonhador e realizador. Mata oito leões por dia e faz as coisas. Resolveu bancar a produção”, conta.
Flavio sobe ao palco pela primeira vez com a autoestima lá em cima. Vem impulsionado por um grande sucesso, também escrito, dirigido e produzido por ele. A peça “Não me entrego, não!”, que lhe valeu outro prêmio da APTR, trouxe de volta à cena, depois de muitos anos de afastamento, o ator Othon Bastos. Ele tinha 91 anos quando o espetáculo estreou, em junho de 2024. Já completou 92 viajando pelo país e, possivelmente, chegará aos 93 (em maio de 2026) com esse trabalho em que recorda momentos marcantes de sua trajetória – e ganha prêmios por isso, como o Shell e o APTR. Há apresentações confirmadas até março, no Rio e em outras cidades.
“Ensaiamos numa salinha em Botafogo que a gente chamava de cativeiro. Pensei: está digno, vai ficar dois meses em cartaz e acabou. Virou um fenômeno”, espanta-se Flavio, que deve também a Fernanda Montenegro parte do sucesso. “Ela foi ver o ensaio aberto e chorou abraçando o Othon. O vídeo viralizou. No dia seguinte, o teatro estava cheio.”
A coisa que mais o alegra é ver a satisfação de Othon. O ator tinha ido procurá-lo após se encantar com “Judy”. Queria que Flavio escrevesse para ele. “Quando bateu na minha porta, não fazia um filme ou uma novela há quatro anos. É um homem muito discreto, reservado. Imagina o quanto custou isso a ele. Falei: vamos dar um jeito. Quem sou eu para dizer não ao Othon Bastos?”
“O Flavio fez ‘Judy’, Othon e o espetáculo de agora sem patrocínio. Não tenho palavra para dizer o quanto eu admiro isso. Alguém que dá a mão para uma pessoa como o Othon e diz: ‘vambora’”, exalta a atriz e cantora Soraya Ravenle, outra das mulheres de “Duas ou três coisas que eu sei delas”. Ela é a única pessoa em cena além de Flavio. Interpreta músicas que ilustram o que ele narra. Os dois haviam trabalhado juntos apenas uma vez, em 2016, numa série de quatro apresentações chamada “Música + teatro”. Neste ano, ele lhe telefonou falando de um espetáculo que estava imaginando.
“Uma semana depois, o texto estava na metade e já tinha até data em teatro”, diverte-se Soraya, que, graças à peça, está conhecendo a história de vida do dramaturgo desde a infância. “Imagino um garotinho de óculos de fundo de garrafa que queria ler tudo, saber tudo o que estava acontecendo.” Era isso mesmo. Flavio tinha dez graus de miopia, vivia batendo com a cara na parede, mas os pais não percebiam. Também não se davam conta da paixão que o menino desenvolvia pelas artes.
“Eles iam ao teatro, mas não me levavam. Quem me levava era a avó alemã de um colega e o meu tio Rozendo, irmão do meu pai. Quem me ensinou a ler foi a babá. Ninguém prestava muita atenção em mim. Tinha um irmão que era interno do Colégio Militar, ficava lá de segunda a sábado. Até morrer foi um estranho para mim”, recorda.
A mãe, Maria Isabel, era pintora amadora, tocava piano, mas não trabalhava. Segundo o filho, era uma “Patricinha do Posto Seis”, em Copacabana – ele cresceu num apartamento da Avenida Atlântica, na orla da praia. O pai, Constâncio, que tinha sido coronel da Aeronáutica, ganhava muito dinheiro com uma agência de viagens do Lloyd Aéreo. Chamava o filho de “cadete”.
A babá, Conceição, o levava ao cinema. Naquele início dos anos 1960, estava na moda o melodrama musical espanhol, de atores/cantores como Joselito, Marisol e Sarita Montiel. Segundo Flavio, eram “filmes muito lacrimogêneos”, que se refletem em momentos de emoção que existem em suas peças. “Um dia fomos ver ‘La violetera’, o maior sucesso do Sarita Montiel. O cinema cheio, eu no colo da Conceição. Ficamos três sessões seguidas. Aquilo me apresentou o cinema e a música. Foram minhas duas primeiras paixões.”
O deslumbramento com o teatro começou aos 7 anos com “My fair lady”, estrelada por Bibi Ferreira. Foi levado pela tal avó de um colega, a quem chamavam de Tia Oma (avó em alemão). O tio Rozendo, que era presidente do Cineclube do Rio de Janeiro, também levava. “Ele me enxergava. Dizia para meus pais: ‘esse garoto gosta de música, teatro, cinema’.” Aos 11, viu uma peça adulta: “O homem do princípio ao fim”, de Millôr Fernandes, com Fernanda Montenegro. Ela tinha um monólogo em que simulava fazer amor com um parceiro imaginário. “Fiquei impressionadíssimo. Desde então, vi tudo da Fernanda.”
Quando chegou aos 17 anos, ouviu de Constâncio e Maria Isabel a pergunta: “vai estudar o quê?”. “Aí descobri que havia a profissão de crítico de cinema. ‘Gente, a pessoa é paga para ver filme. Esse é o paraíso. Eu quero ser isso.’ Reação dos meus adoráveis pais: ‘você quer morrer de fome? Nem tem faculdade de crítico de cinema. Escolhe: direito, medicina ou engenharia’. Escolhi ser advogado”, conta ele, que fugiu das profissões em que o risco de matar gente é maior.
Estudava pensando em, depois, ser diplomata. Mas representar o país sob a ditadura não era algo que o animasse, pois não comungava das ideias políticas do pai, um homem de direita. Fazia a faculdade de manhã, trabalhava no Tribunal de Contas do Estado à tarde e ia para o curso de francês à noite. No primeiro ano da Aliança Francesa, dava-se o francês clássico, de Corneille, Racine e outros. “Eu achava maravilhoso. Um dia, uma senhora me perguntou: ‘por que você está com essa cara de felicidade? Isso aqui é chato demais. O que você faz da vida?’ Quando eu contei, ela falou: ‘Flavio, você precisa fazer alguma coisa séria sobre a sua vida’. Ela estava certíssima.”
Contou a história para um amigo, Eduardo Nova Monteiro, o Adu, que concordou de imediato com a senhora: “você só fala em cinema, teatro, música, livro, TV, menos em leis e Tribunal de Contas”. Adu tinha contatos na “Tribuna da Imprensa” e o indicou para o jornal. A colunista social, Gilka Machado, queria reduzir sua página diária. Resultado: ela ficou com meia página e a outra metade foi entregue a Flavio, então com apenas 18 anos, em 1973. Podia escrever sobre cinema, teatro, discos, TV. “As portas do paraíso se abriram”, brinca ele, que ganhava um salário-mínimo e tinha de cavar brechas em sua rotina para produzir os textos.
Com o tempo, conseguiu se livrar do Tribunal de Contas, mas precisou levar o direito até o fim. “Morava com os meus pais, era sustentado por eles, não podia falar grosso. Eu me formei a duríssimas penas, aos trancos e barrancos. Peguei o diploma e falei para os dois: ‘Tomem. Queriam tanto isso, agora levem’”, relembra ele, que nunca exerceu a advocacia.
A “Tribuna” vendia oito mil exemplares, mas os leitores eram o que se chamaria hoje de qualificados. Muita gente de teatro lia seus textos. Numa noite, enquanto esperava uma peça começar, foi abordado pela atriz Jacqueline Laurence, francesa radicada no Brasil e conhecida por seu estilo direto e divertido. “‘Você não é Flavio Marrrinho?’”, recorda ele. ‘Venho de família de jornalistas. Você está sendo sutil demais, usando muitas palavras em francês, que é uma língua praticamente morta. Tem que escrever mais jornalisticamente. Descomplica, seja mais objetivo.’ A partir daí, mudou tudo.”
Ele descobriu que tinha outro leitor especial: Gilberto Braga, na época crítico de teatro de “O Globo”, assinando Gilberto Tumscitz, seu outro sobrenome. Como ia tirar dois meses de férias acumuladas, convidou Flavio para substituí-lo. O convite foi aceito, mas sem que ele saísse da “Tribuna”. No “Globo”, assinava Flavio de Oliveira, também se valendo de outro sobrenome.
Quando Gilberto migrou para a TV Globo se firmar como autor de novelas, Flavio assumiu para valer a função e pôde adotar o sobrenome Marinho. Como era de se esperar, muita gente achava que ele era da família proprietária do jornal. “Até hoje acham que sou herdeiro, que produzo peças sem patrocínio porque sou riquíssimo. Se eu fosse da família, eles não teriam me demitido em 87”, diz ele, que virou uma referência como crítico e como repórter de teatro. Em outras publicações, como o “Jornal do Brasil” e as revistas “Ele & Ela” e “Desfile”, escrevia sobre outros temas, como cinema e música, e fazia entrevistas internacionais – Flavio foi até o fim no francês, no inglês e no espanhol. Uma seleção de sua produção jornalística está no livro “Flavio Marinho em letra de imprensa” (Imago).
Ele foi demitido pouco depois de voltar de férias. Estava sem dinheiro e sem horizonte profissional. Encontrou-se por acaso com Wolf Maya, seu amigo dos tempos de Colégio Andrews. O diretor lhe pediu uma dica de musical para montar. Flavio contou que acabara de assistir em Nova York, no off-Broadway, a um musical simples e divertido. Wolf pegou um avião, viu e gostou. Não só: convidou o amigo para traduzir e adaptar a peça. Flavio topou. O resultado foi “Noviças rebeldes”, que ficou 12 anos em cartaz.
A dupla voltou a trabalhar junta em “Splish splash”, desta vez uma peça original de Flavio, feita para o então casal Claudia Raia e Alexandre Frota. Outro sucesso. Ele também passou a ser muito requisitado como tradutor. Três peças que traduziu foram encenadas por José Possi Neto. “Aprendi muito com ele. Meu estilo de dirigir é uma mistura do Wolf com o Possi”, afirma ele, que se considera, como autor e diretor, um “completo autodidata”. “Volta e meia eu tenho recaída de achar que sou uma fraude. A síndrome do impostor vem com uma violência horrível. Agora, como ator, é o auge da impostura.”
A insegurança não se justifica. Nos 38 anos de vida teatral pós-jornalismo, os sucessos prevalecem sobre os “insucessos” – como é superstição no meio teatral, ele não fala a palavra “fracasso”. Poucas peças foram mal, entre elas “Irmãozinho querido”, que fez em 2018 após a morte do irmão que mal conheceu, Vitor. E muitas foram bem, entre elas “Os sete brotinhos” (1993) – a primeira que escreveu, dirigiu e produziu – e “Quatro carreirinhas” (1995), outra em parceria com Wolf. Enorme sucesso foi “Abalou Bangu”, que estreou em 2003 e ficou quase três anos em cartaz. Em 2011 veio “Abalou Bangu 2”. E ele está planejando para o próximo ano uma terceira etapa.
“Tem pessoas que chegam para mim depois da peça do Othon e dizem: ‘Me emocionei muito. Mas e ‘Abalou Bangu’, não vai voltar?’”, conta Marinho.
Muito antes de começar a escrever para teatro, Flavio já tinha experimentado a TV. Ele foi, em 1979, da primeira equipe de “Malu mulher”, a série estrelada por Regina Duarte e dirigida por Daniel Filho. No ano da demissão do “Globo”, 1987, fez uma “pesquisa dramatizada” (escrita em diálogos) para a novela “Bambolê”, de Daniel Más.
Voltaria à TV no século XXI. Primeiramente, como roteirista de programas como “Gente inocente” e “Criança esperança”, além do especial de fim de ano de Roberto Carlos. Em 2008, Miguel Falabella o chamou para escrever novelas e séries com ele. Simultaneamente, fazia os roteiros do “Som Brasil”. “TV é bom, tem o salário no fim do mês, mas não é a cachaça do teatro”, diz Flavio. “Se tem a sorte de fazer um grande sucesso no teatro, como eu tive agora com o Othon, você trabalha menos e ganha mais. E pode fazer outras coisas. Escrever um livro, por exemplo. E até estrear como ator.”
Falabella cultiva com Flavio uma amizade de mais de 40 anos. “Pouca gente conhece o ofício como ele, já que ocupou várias posições nesses muitos anos de trabalho”, disse Falabella. “O jornalismo e a crítica que ele exerceu no início de carreira pavimentaram o caminho do dramaturgo que tem um olhar muito preciso e original em suas obras. Sempre trabalhamos com muita afinidade e temos um olhar e cultura parecidos. Algum desavisado que nos ouvisse conversando precisaria de uma enciclopédia de cinema e teatro para entender o conteúdo.”
O cinema, aquela paixão surgida no colo da babá, nunca arrefeceu. Perguntado sobre diretores preferidos, sai listando: Alfred Hitchcock, Claude Chabrol, Billy Wilder, Vincente Minnelli, George Cukor, Blake Edwards, Robert Wise, Luchino Visconti, Nanni Moretti… E adora comédias românticas. “Já vi ‘Um lugar chamado Notting Hill’ umas dez vezes e choro sempre no final”, conta. “É uma burrice ver a comédia romântica de forma pejorativa, porque é dificílimo fazer. Precisa ter humor, romance, uma ponta de drama, uma ponta de crítica social. É uma receita, um suflê que precisa estar no ponto. É muito difícil ter um ‘Quatro casamentos e um funeral’.”
Já realizou o sonho de escrever um roteiro para cinema. Diogo Vilela lhe encomendou uma adaptação de “Cauby! Cauby!”, musical que foi outro grande sucesso, em 2006 e 2007. Leram para Cacá Diegues, que aprovou sem fazer um senão. Falta o dinheiro.
Falando em dinheiro, Flavio decidiu comprar e reformar um apartamento em Ipanema. Depois de 70 anos no Posto 6, vai se mudar – para perto de Falabella, que está voltando de São Paulo para morar no Jardim de Alah, na fronteira entre Ipanema e Leblon. Diz que vai se sentir um exilado e que não sabe bem por que está mudando. Foi um impulso como os tantos que fez no teatro e se transformaram em sucesso. E como o que levou ao palco, como ator, pela primeira vez na vida.